(*)Elivânia Felícia Braz
Criada em 2006, a Lei nº 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, é um dos maiores marcos no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil. Sua importância vai além da punição de agressores: ela estabelece medidas protetivas, políticas públicas de prevenção e mecanismos de acolhimento, reafirmando o direito das mulheres à uma vida digna e livre de violência. Muitas pessoas pensam que essa lei serve apenas para casos de agressão entre marido e mulher ou ex-casais. No entanto, ela vai muito além disso. A lei também pode ser usada para proteger mulheres que sofrem violência dentro da própria família, mesmo que não sejam casadas ou não morem com o agressor.
A violência doméstica, conforme a lei, não está restrita às relações conjugais. O artigo 5º da Lei define que se configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral ou patrimonial, ocorrida no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação.
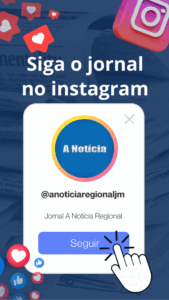 Assim, a violência contra a mulher pode acontecer em diferentes formas: agressões físicas (violência física), ameaças, humilhações (psicológica), abuso sexual (sexual), destruição de bens, controle financeiro (patrimonial) e até ofensas verbais (moral). Isso significa que gritos, insultos, impedir a mulher de trabalhar ou estudar, forçá-la a fazer algo contra sua vontade ou causar medo constante também são considerados tipos de violência.
Assim, a violência contra a mulher pode acontecer em diferentes formas: agressões físicas (violência física), ameaças, humilhações (psicológica), abuso sexual (sexual), destruição de bens, controle financeiro (patrimonial) e até ofensas verbais (moral). Isso significa que gritos, insultos, impedir a mulher de trabalhar ou estudar, forçá-la a fazer algo contra sua vontade ou causar medo constante também são considerados tipos de violência.
E é possível aplicar a Lei Maria da Penha em situações que envolvem, por exemplo, violência praticada por pais contra filhas, filhos contra mães, irmãos contra irmãs, avós e netas, primos e primas e até mesmo entre cunhados. O foco da norma é a proteção da mulher em situação de vulnerabilidade, considerando a desigualdade de gênero como pano de fundo para os atos de violência, principalmente dentro de casa, onde muitas vezes a violência é escondida ou naturalizada. Por isso, ela não exige que a vítima viva com o agressor, nem que exista um relacionamento amoroso atual. Basta que exista algum vínculo familiar ou afetivo.
A Lei, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade entre os gêneros, fundou-se justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente, ou seja, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a lhe conferir proteção especial.
Em muitos lares brasileiros, as formas mais sutis, como o controle psicológico, a humilhação constante, o isolamento social e a manipulação financeira, ainda são invisibilizadas. O reconhecimento desses comportamentos como formas de violência é essencial para ampliar a rede de proteção às mulheres.
É preciso entender que a violência contra a mulher, quando ocorre no seio familiar, não é apenas um problema privado — trata-se de uma questão pública e estrutural. A aplicação da Lei Maria da Penha nas diversas configurações familiares é, portanto, um instrumento de justiça e de transformação social. Proteger as mulheres em todas as formas de convivência familiar é proteger também as futuras gerações da normalização da violência.
Reconhecer sua aplicabilidade, além do casamento ou união estável, é um passo fundamental para assegurar às mulheres o direito à segurança e à dignidade, seja em um vínculo afetivo, dentro da casa ou ambiente familiar.
(*)Elivânia Felícia Braz é advogada, presidente da AMA e vice-presidente da Comissão Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da OAB/MG.


